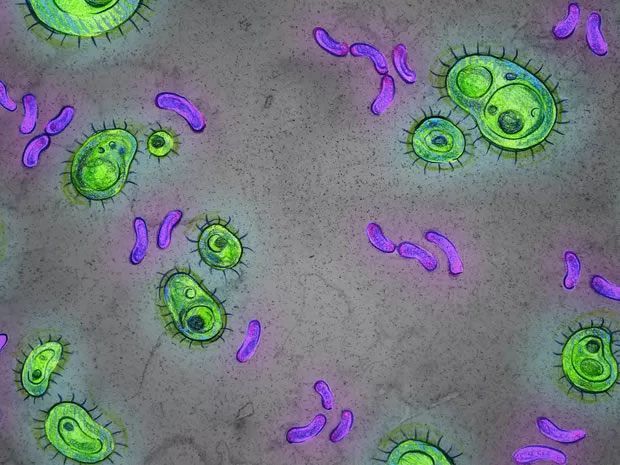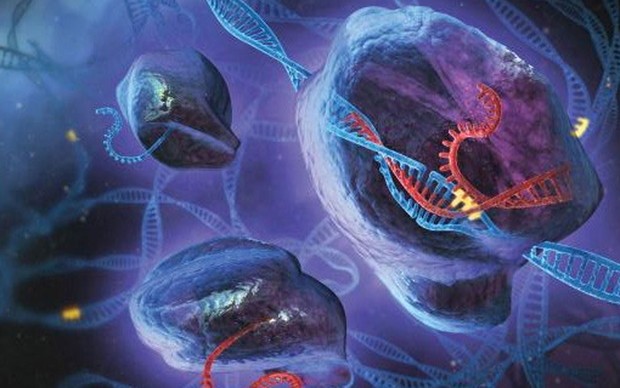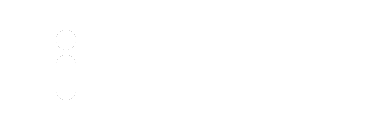Uma única injeção de anticorpos pode proteger macacos de infecção por um vírus muito parecido com o HIV por quase seis meses.
A descoberta proporciona maiores evidências de que anticorpos – proteínas especializadas que o corpo produz para lutar contra infecções – poderiam um dia ser utilizados como método para prevenir infecção por HIV em pessoas.
“É necessário ter atenção e lembrar que macacos não são humanos, mas o modelo que os autores usam é o melhor possível e os resultados são um impulso para a pesquisa de vacinas contra o HIV e o uso de anticorpos passivos como preventivos de longo prazo” disse o imunologista Dennis Burton do Scripps Research Institute em La Jolla, Califórinia, que não esteve envolvido no estudo.
Pesquisadores vêm tendo dificuldades para produzir uma vacina efetiva contra o HIV e cientistas por trás deste estudo dizem que administrar doses periódicas de anticorpos pode fornecer uma medida provisória enquanto a pesquisa pela vacina continua. “Isso pode acabar sendo uma alternativa sazonal para uma vacina até que realmente saibamos como fazer uma”, diz o pesquisador sobre HIV Malcom Martin, do US National Institute of Allergy and Infectious Diseases em Bethesda, Maryland, que liderou o trabalho.
Proteção de longo prazo
Estudos anteriores descobriram que anticorpos derivados de pessoas infectadas com HIV podem reduzir drasticamente e por curtos períodos de tempo a quantidade de HIV no sangue de uma pessoa contaminada. Pesquisadores também descobriram que anticorpos aplicados em macacos um ou dois dias antes deles serem expostos a uma infecção por vírus semelhante ao HIV os preveniu de serem infectados.
Martin e seus colegas quiserem testar se uma estratégia envolvendo anticorpos poderia ter um efeito mais duradouro já que, no mundo real, pessoas podem ser expostas ao HIV semanas ou meses depois de serem aplicados os anticorpos protetores.
Sua equipe descobriu que, na falta de proteção, macacos expostos a um vírus quimérico contendo porções tanto de HIV quanto do seu equivalente símio, SIV, se contaminaram depois de duas a seis exposições. Os pesquisadores então deram para outros quatro grupos de macacos uma única injeção de anticorpos: um anticorpo diferente foi injetado em cada grupo. Esses macacos foram então expostos ao vírus quimérico uma vez por semana até que os cientistas pudessem detectar a patogenia no sangue dos animais. Para imitar melhor a infecção de HIV humana, os pesquisadores expuseram os animais a doses menores de vírus do que em estudos passados, que deram doses deliberadamente maiores para garantir que os animais fossem infectados.
Todos os animais se tornaram infectados entre a 12ª e 23ª semanas, dependendo do anticorpo que lhes foi aplicado no início. A probabilidades de o animal se tornar infectado cresceu à medida que a quantidade de anticorpos no seu sangue diminuiu.
Os resultados somam à crescente positividade sobre o potencial uso de anticorpos como ferramentas preventivas contra o HIV. A praticidade da abordagem foi questionada, uma vez que são caros e não foi esclarecido quão frequentemente eles precisariam ser usados para prevenir que pessoas se contaminem. Mas os achados divulgados demonstram que anticorpos podem fornecer proteção razoavelmente longa com uma única dose. E Martin diz que anticorpos podem durar ainda mais nas pessoas: o sistema imunológico do macaco os vê como proteínas “estrangeiras”, mas isso pode ser um problema menor nos humanos, ele aponta.
Sua equipe está agora modificando um dos anticorpos usados no estudo, 3BNC117, para fazer com que ela dure mais no corpo. E nesse mesmo estudo, o grupo mostra que modificar um outro anticorpo, VRC01, prolonga o tempo de proteção oferecido contra o vírus quimérico em macacos. Usar combinações desses anticorpos de vida longa poderiam evidenciar uma alternativa à regimes de prevenção existentes, como a profilaxia de pré exposição (PrEP), que pode envolver tomar uma pilula por dia para proteger contra o HIV.
“Isso tem uma vantagem sobre a PrEP porque você não tem que se preocupar todos os dias – esse é o ponto principal aqui”, diz Martin.
Fonte: Scientific American Brasil
Esse artigo foi reproduzido com autorização e foi originalmente publicado na Nature, por Erica Check Hayden