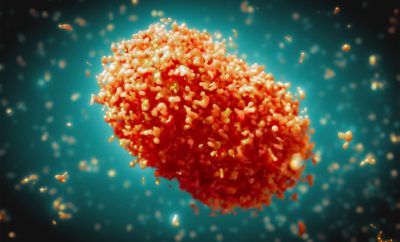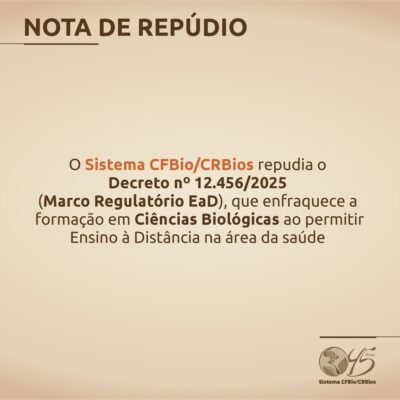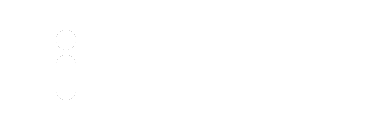O mundo ainda lidava – e continua lidando – com os efeitos devastadores de uma pandemia desencadeada em 2020 por um vírus zoonótico, o SARS-CoV-2, quando em maio deste ano um novo alerta surgiu no Reino Unido: pacientes infectados com monkeypox, doença causada por vírus homônimo do gênero Orthopoxvirus, que também abarca os vírus da varíola humana, da varíola bovina e o vaccinia.
De lá para cá os números cresceram exponencialmente (são mais de 16 mil casos confirmados, de acordo com o último boletim epidemiológico da Organização Mundial da Saúde), a doença alcançou escala global e as primeiras mortes foram confirmadas, inclusive uma no Brasil. Imediatamente surgiu a dúvida e o temor: estamos diante de uma potencial nova pandemia?
Segundo a bióloga Giliane de Souza Trindade (030569/04-D), doutora em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora do Instituto de Ciências Biológicas da instituição, é preciso estar alerta, mas não vivenciaremos com esse vírus uma situação semelhante à da Covid-19. “Pelo incremento no número de casos, pode ser que a disseminação do monkeypox se torne um evento pandêmico, mas não com o impacto disruptivo do SARS-CoV-2”, afirma. Giliane, que atua principalmente nos estudos de ecoepidemiologia de viroses emergentes e integra a Câmara Pox do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – grupo técnico temporário formado pelo órgão para monitorar o avanço dos casos -, explica que uma das principais diferenças entre os dois vírus está no potencial de transmissibilidade. Enquanto no caso do novo coronavírus o contágio ocorre pelo ar, por meio de partículas suspensas, a principal forma de contágio do monkeypox é pelo contato direto com infectados, especialmente com as lesões cutâneas, o que pode facilitar a quebra da cadeia de transmissão.
Outro ponto ressaltado pela pesquisadora é o fato do monkeypox ser um vírus já conhecido há muitas décadas. “Estamos tratando de um vírus identificado pela primeira vez em 1958, em um grupo de primatas em um biotério na Dinamarca. Então já existe um conhecimento acumulado que não tínhamos em relação à Covid-19, inclusive com formas de intervenção, como vacinas e antivirais, ainda que não estejam disponíveis em larga escala”, explica.
Vacinação
Por se tratar de um vírus da mesma família da varíola humana (Poxviridae), análises preliminares indicam que as pessoas que receberam o imunizante nas décadas de 1960 e 1970 estão protegidas contra o monkeypox. Contudo, como a varíola humana foi considerada erradicada em 1980 e as campanhas de vacinação foram suspensas desde então, é grande o contingente populacional que nunca foi imunizado.
Apesar disso, Giliane avalia como remota a necessidade de uma vacinação em massa nesse momento. “Em caráter emergencial devemos cercar a cadeia de transmissão realizando um bloqueio vacinal nos contatos dos infectados e em grupos mais vulneráveis. Mas quando penso no potencial de emersão e circulação dos Orthopoxvirus, acredito que a discussão sobre uma futura vacinação global é bem-vinda”, salienta.
Surgimento
Conforme já mencionado, o monkeypox foi identificado pela primeira vez em macacos levados à Dinamarca para estudos, em 1958. Na década de 1970 a doença foi descrita pela primeira vez em seres humanos, em uma criança na República Democrática do Congo. A partir de então, casos esporádicos começaram a ser registrados na bacia do Congo e, posteriormente, na África Ocidental, sobretudo em jovens e crianças, que não haviam sido imunizados contra a varíola humana.
No início dos anos 2000 começou a ocorrer um incremento no número de casos, mas ainda sempre em conexão com ambientes silvestres, em comunidades que viviam em bordas de floresta e em contato direto com uma ampla gama de mamíferos hospedeiros.
Foi a partir de 2010, então, que se observou uma alteração no perfil epidemiológico do vírus, que alcançou grandes áreas urbanas na África. “Daí em diante não era difícil antever que o vírus escaparia de sua região endêmica e se espalharia, o que se deu particularmente a partir de 2017”, relata Giliane. “Ao analisarmos historicamente, não dá para se falar em grande surpresa, especialmente quando tratamos de patógenos emergentes. São ocorrências que estão intimamente ligadas com nossa estrutura de vida, com o intercâmbio populacional, com a forma com que interagimos com o ambiente”, complementa.
Segundo a bióloga, já é muito bem caracterizado como as alterações no uso da terra, a expansão agropecuária e as mudanças climáticas são fatores de emergência de patógenos. “As áreas do planeta que possuem a maior biodiversidade desses organismos estão na faixa tropical do globo, regiões que concentram países com economias menos desenvolvidas, em que existe um menor grau de fiscalização e mecanismos pouco eficientes de proteção das áreas naturais… está tudo intimamente interconectado”.
Por todo esse contexto e pela gigantesca capacidade de mutação dos vírus, Giliane afirma ser tarefa difícil tentar prever qual o próximo vírus com o qual a humanidade terá que lidar, mas que o melhor caminho é monitorar áreas prioritárias e táxons específicos: “devemos concentrar nosso olhar nas áreas tropicais do planeta e especialmente em mamíferos que possuam uma maior proximidade filogenética conosco, como roedores, quirópteros e primatas não humanos”.
Em todo esse cenário, o papel dos biólogos se mostra, uma vez mais, imprescindível: “desde a questão da preservação ambiental, passando pelas pesquisas com esses patógenos, pelo desenvolvimento de ferramentas de prevenção e de testes diagnósticos, pela transferência de conhecimento e divulgação científica, até finalmente chegar na elaboração de políticas públicas. Os biólogos se inserem totalmente nessa questão”, conclui Giliane.
Fonte: CRBio-04